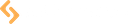Estratégia na Complexidade: Construir o Caminho ao Caminhar

Estratégia na Complexidade: Construir o Caminho ao Caminhar
Uma pergunta catalisadora em nossa Roda de Conversas nos lançou em uma investigação profunda: qual a utilidade e o limite dos mapas? O questionamento surgiu da percepção de uma atração por métodos e frameworks em contraste com a constatação de que os melhores resultados muitas vezes emergem da imersão direta no "território da complexidade".
A resposta inicial veio através de uma história, um arquétipo que reconhecemos imediatamente: o da "sede por um mapa em um território sem estradas”. Um gerente, diante do desafio complexo de "aumentar o engajamento", resistia à ideia de uma simples conversa exploratória, insistindo na necessidade de um plano de ação. Vimos ali o reflexo de uma mente que busca um manual, um painel de controle, para evitar o desconforto de se engajar com um terreno imprevisível.
Nossa primeira clareza foi a de que o propósito do mapa não é substituir o território, mas nos informar sobre ele. Um mapa mapeia o passado, tornando-se um instrumento útil no presente para revelar possibilidades de ações e oportunidades futuras. A ideia de um continuous mapping — um mapa vivo, constantemente desafiado e atualizado — ressoou como uma abordagem mais sábia.
Mas a conversa se aprofundou. A questão evoluiu de "como nos relacionamos com mapas?" para algo mais fundamental: "Se a mudança em ambientes complexos acontece por meio da ação, quais são as práticas para navegar quando não há mapa algum?".
Foi então que uma metáfora poderosa emergiu, iluminando todo o nosso diálogo:
No pensamento analítico, a estrutura é um trilho de trem. O mapa da estação representa fielmente um território fixo para levar o trem a um destino pré-definido.
No pensamento sistêmico, a estrutura é uma cidade com um mapa configurativo, como um Waze. Existem ruas, rotas e regras que operam entrelaçadas com seu contexto (o trânsito e seu dinamismo) por meio de ciclos de feedback. Tal estrutura exige adaptação, mas o território já está, em grande parte, mapeado.
No pensamento complexo, no entanto, não há trilhos nem ruas. O território é uma floresta densa e inexplorada. Aqui, a estrutura não é o caminho, mas o acampamento-base: um espaço seguro para o qual sempre se pode retornar. As ferramentas são as de um explorador: o facão, a bússola, o rádio. E o guia não é um destino, mas uma intenção: a direção do sol, o que se espera encontrar.
Nesse paradigma, a ação não é seguir uma trilha, mas enviar batedores — pequenos experimentos seguros (safe-to-fail) — em diferentes direções. O batedor avança 50 metros, observa o que encontra — um rio, um penhasco, um solo fértil — e retorna ao acampamento com essa nova informação. Com base nesse aprendizado, o grupo não planeja a travessia inteira; ele decide apenas os próximos 50 metros. O caminho não é seguido, ele é aberto, passo a passo, a cada golpe de facão. O mapa é desenhado depois que o território é conquistado.
A voz que em nós pedia por "um mínimo de estrutura para acalmar quem quer o controle" encontrou sua resposta aqui. A estrutura, na complexidade, não é o plano, mas o processo. A segurança não vem da previsibilidade do resultado, mas do compromisso com um processo exploratório e da robustez da sua execução. A pergunta "qual a coragem necessária para o salto?" agora pode ser explorada também na forma de "como reduzir o tamanho do passo para que ele quase não exija coragem?".
Controlamos o processo para que possamos ter confiança no futuro que emerge. Ao invés de nos apegarmos à ilusão de que podemos controlar o resultado, aprendemos a gerenciar o ritmo de nossa exploração, aprendendo com o terreno a cada passo.
Sua Vez de Refletir
Em vez de perguntar "qual é o mapa para o nosso destino?", que tal perguntar: "Qual é o nosso acampamento-base, qual é a nossa intenção e qual é o próximo batedor que podemos enviar para explorar os 50 metros à nossa frente?"